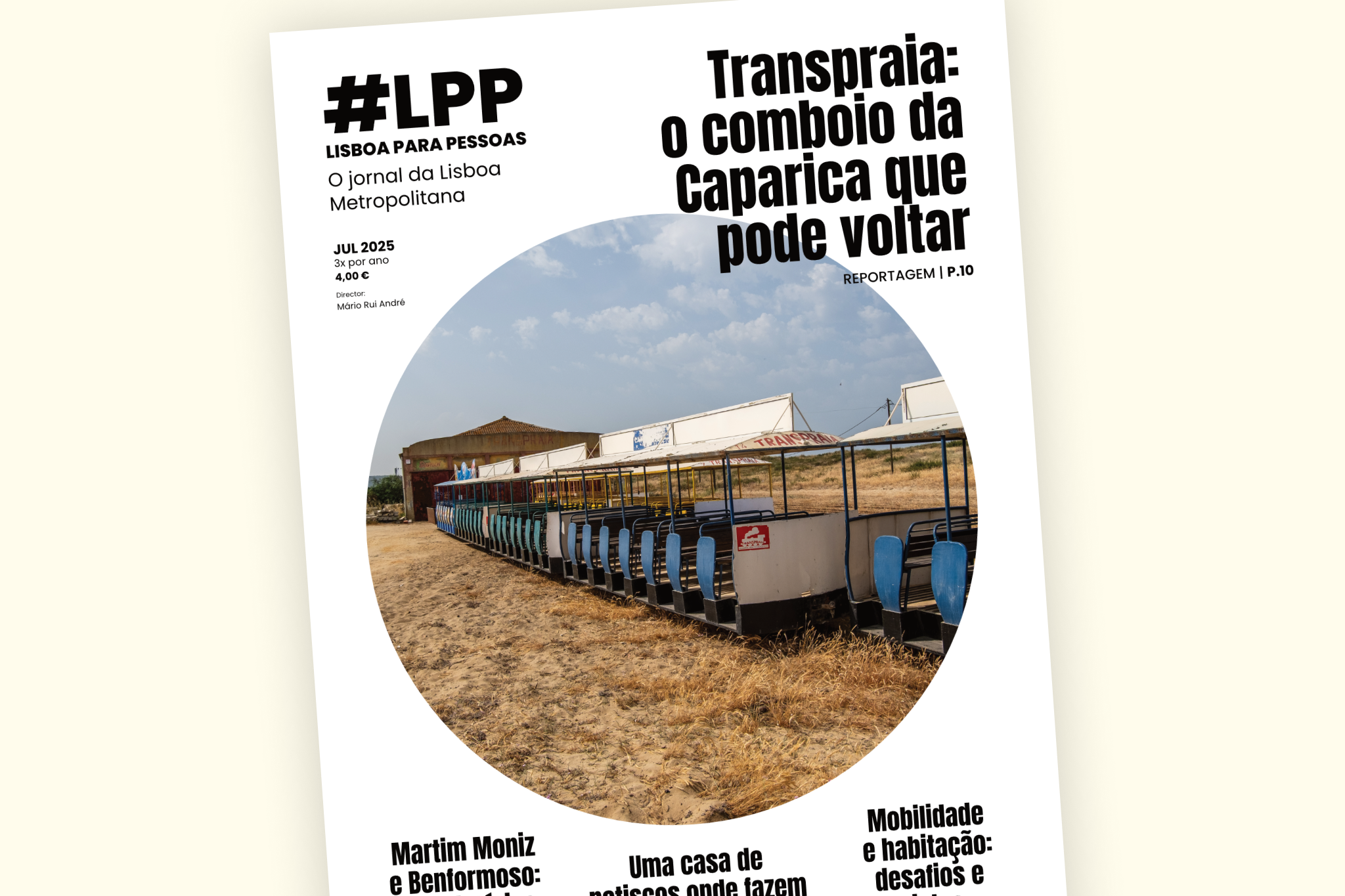Os Laboratórios de História podem ajudar a desenvolver um acordo colectivo sobre questões altamente controversas, através do passado e de um trabalho conjunto entre historiadores, cidadãos e técnicos. Colin Divall dedicou parte da sua vida não só a criar Laboratórios de História, como a pensar o presente e a imaginar o futuro a partir das narrativas e construções do passado. Nesta entrevista, partilha connosco algum desse conhecimento.

Quer nos apercebamos ou não, o futuro da mobilidade urbana é moldado pelo seu passado. E olhar para o passado pode ajudar-nos a perceber que não há inevitabilidades nos padrões actuais da mobilidade urbana – porque resultam de escolhas feitas historicamente entre visões diferentes e concorrentes sobre o que uma cidade deve ser – e a conhecer um reservatório de visões alternativas. Colin Divall discute estas ideias sobre o “passado utilizável”.
Colin Divall é historiador. Foi professor de Estudos Ferroviários na Universidade de York, no Reino Unido, tendo estudado a forma como, em particular nos séculos XIX e XX, determinadas narrativas influenciaram o desenvolvimento da ferrovia britânica em relação à rodovia. De uma forma mais abrangente, tentou (e continua a tentar) perceber como as nossas atitudes no passado em relação à mobilidade podem moldar o desenvolvimento contemporâneo de políticas de transporte mais ecológicas e socialmente sustentáveis.
Aposentado hoje da sua Universidade, Colin está a colaborar como consultor com um projecto de investigação em Lisboa, o Hi-BicLab, que está a tentar perceber o que é que os passados da cidade podem dizer sobre o presente, não em relação à ferrovia, mas à bicicleta. “Já há muitos anos que tenho um forte interesse em tentar compreender como a história pode ser aplicada às questões cívicas atuais, especialmente no que diz respeito à mobilidade. Tanto durante o período em que trabalhava a tempo inteiro, como desde a reforma tenho estado envolvido em vários projetos que procuraram relacionar a história com várias questões de políticas de transporte.”, conta em entrevista ao LPP. “E, apesar de o meu trabalho como historiador profissional estar principalmente relacionado com os caminhos de ferro, ando de bicicleta há muito tempo, desde criança. Sempre tive um interesse muito, muito forte como cidadão no que agora chamamos de mobilidade activa.”
No contexto do Hi-BicLab, Diego Cavalcanti, historiador e investigador no referido projecto de investigação, e M. Luísa Sousa, também historiadora e investigadora responsável do projecto, realizámos, para o LPP, a entrevista a Colin Divall que agora se publica.
Qual é o papel da História em abordar questões contemporâneas e como pode contribuir para mudanças em tópicos atuais, como as alterações climáticas e a mobilidade sustentável?
Em primeiro lugar, temos de ser muito claros sobre o que a história não pode fazer. Compreender o passado – por melhor que o compreendamos – não produz um livro de receitas, um conjunto de instruções, que possamos retirar do passado e aplicar ao presente. Historiadores, muito mais eminentes do que eu, afirmaram, frequentemente, que a história não se repete. Assim que compreendemos isso, percebemos que não vale a pena esperar que possamos voltar atrás e entender, por exemplo, por que motivo as autoestradas foram construídas numa determinada cidade e que tipo de oposição houve, e tirar daí um conjunto de instruções sobre como se opor a planos no presente; ou até mesmo sobre como fazer campanhas bem-sucedidas por novas ciclovias, ou outra tema qualquer: as circunstâncias são sempre diferentes. Num tom mais positivo, na minha perspetiva, acredito que a forma mais poderosa de a História contribuir para o discurso político atual e para as campanhas em torno da mobilidade ativa, ou qualquer outro tema, é pensar nela como uma forma de abrir ou libertar a nossa imaginação para as possibilidades do futuro. Eu penso que esta é uma ideia bastante simples, mas que precisa de ser explicada de forma detalhada.
“Se quisermos efetuar uma mudança radical, se quisermos transformar uma cidade como Lisboa, de um domínio do automóvel para um papel muito mais forte por parte do transporte ativo, como as mobilidades ciclável e pedestre (o que é uma grande mudança), então temos de levar os cidadãos connosco. Temos de levar os cidadãos, assim como os representantes eleitos e as instituições nas quais se formulam políticas, entre outras. Uma chave para o fazer é desenvolver-se histórias e narrativas que aticem a imaginação das pessoas para este futuro muito diferente.”
Penso que precisamos de ter uma noção sobre como a mudança radical política pode acontecer, ou tornar-se possível no presente, no início do século XXI. Tenho sido muito inspirado por um conjunto de ativistas políticos, principalmente pelo ativista britânico e escritor ambiental George Monbiot, que argumenta que a mudança radical política e social é conduzida tanto por emoções e paixões, quanto por argumentos racionais. Isso não é uma razão para se abandonar argumentos baseados em evidências, mas reconhecer que, para efetuar uma mudança política, especialmente em democracias, é necessário conquistar o apoio dos cidadãos. Os cidadãos tendem a envolver-se em campanhas políticas tanto através da emoção e paixão, como através de argumentos racionais.
Assim, se aceitarmos isto, a consequência é que, se quisermos efetuar uma mudança radical, se quisermos transformar uma cidade como Lisboa, de um domínio do automóvel para um papel muito mais forte por parte do transporte ativo, como as mobilidades ciclável e pedestre (o que é uma grande mudança), então temos de levar os cidadãos connosco. Temos de levar os cidadãos, assim como os representantes eleitos e as instituições nas quais se formulam políticas, entre outras. Uma chave para o fazer é desenvolver-se histórias e narrativas que aticem a imaginação das pessoas para este futuro muito diferente.
Como é que podemos contar essas histórias?
Contar histórias é algo que fazemos no presente para alargar a imaginação das pessoas sobre as possibilidades futuras. Mas esta forma de contar histórias no presente precisa remeter para o passado, ou deveria remeter para o passado, para produzir uma narrativa convincente que demonstre por que estamos nas circunstâncias atuais, por que vivemos numa cidade como Lisboa, Londres ou qualquer outra cidade, que é tão dominada pelo carro, para demonstrar que existiam outras possibilidades no passado e que esse passado poderia ter sido diferente. E ajudar as pessoas a compreender que as coisas poderiam ter sido diferentes no passado e, portanto, diria eu, poderiam ser diferentes no futuro.
“Não penso que seja necessário convencer toda a gente com a tua narrativa. Existem pontos de viragem quando convences uma minoria significativa dos cidadãos, talvez cerca de 20 a 25%, de que o futuro que estás a vislumbrar é possível. Mas é importante desenvolver histórias poderosas e convincentes.“
Não penso que seja necessário convencer toda a gente com a tua narrativa. Não precisas envolver 100% dos cidadãos. O trabalho atual sobre mudança política sugere que existem pontos de viragem quando convences uma minoria significativa dos cidadãos, talvez cerca de 20 a 25%, de que o futuro que estás a vislumbrar é possível. Isso pode criar um ponto de viragem no qual a campanha realmente começa a ganhar força e podes começar a obter o apoio dos políticos e de quem desenha as políticas, entre outros.
Mas é importante desenvolver histórias poderosas e convincentes; isto é fulcral na forma como eu entendo como a história, como a nossa compreensão do passado, pode libertar a nossa imaginação para um futuro muito mais radical. Portanto, ao olhar para o passado, estou a sugerir que podemos começar a libertar-nos, a libertar a nossa imaginação do tipo de pressupostos e narrativas dominantes, lembradas de forma incompleta, que tanto contribuem para manter os nossos modos atuais de circular nas cidades e que restringem a nossa imaginação, limitando-a sobre as formas diferentes e mais radicais de mobilidade no futuro.
É através das histórias que se pode contrariar a ideia construída de que a mobilidade automóvel sempre foi inevitável?
O que eu defendo é uma espécie de história que desenvolve narrativas que, por sua vez, libertam as pessoas de uma mentalidade fechada no presente, uma mentalidade que faz com que as pessoas literalmente não consigam conceber formas mais sustentáveis de se deslocar pela cidade. Portanto, aquilo que estou realmente a apelar, o que estamos a tentar desenvolver, é uma forma de compreender o passado, uma forma de contar histórias sobre o passado, que alimenta o que eu vou chamar de uma política cultural de mobilidade urbana sustentável no presente.
Portanto, estas são histórias que envolverão, convencerão e inspirarão um número suficiente de pessoas, talvez esta proporção de 20%, 25% ou o que for, como cidadãos, académicos, pessoas que analisam políticas e decisores políticos a, de facto, sonhar. Sonhar e trabalhar para um futuro que, de outra forma, parece impossível. Assim, é uma forma de contar histórias que olha para o passado e nos informa sobre como chegámos ao ponto em que estamos no presente. Ao fazer isso, liberta a nossa imaginação para o futuro.
“O passado foi objeto de disputas. Foi um processo contestado. Existiam opiniões diferentes – diferentes pessoas tinham ideias diferentes sobre como a cidade deveria evoluir, e o padrão de mobilidade que encontramos hoje não era inevitável. Havia opções no passado, e foram feitas escolhas num determinado nível que nos levaram por um caminho e não por outro.”
Como é que realmente fazemos isso? O que implica este tipo de história? Bem, eu e outras pessoas chamamos-lhe “passado utilizável”. “Utilizável” no sentido em que é uma forma de compreender o passado, uma forma de entender a história que é impulsionada por este imperativo de contar histórias que libertam a nossa imaginação para o futuro. Penso que há três elementos nisso que, eu acredito – na verdade, eu não acredito, eu sei – que já foram incorporados no vosso projeto de Laboratório de História.
Penso que precisamos de deixar muito claro para nós mesmos e para os cidadãos que o passado foi objeto de disputas. Foi um processo contestado. Existiam opiniões diferentes – diferentes pessoas tinham ideias diferentes sobre como a cidade deveria evoluir, como deveríamos circular pela cidade, e o padrão de mobilidade que encontramos hoje não era inevitável. Havia opções no passado, e foram feitas escolhas num determinado nível que nos levaram por um caminho e não por outro.
Mas não estamos, de certo modo, presos ao passado?
Penso que voltar ao passado também nos permite compreender o outro lado desta perceção de que existiam alternativas. E este outro lado é que as escolhas foram feitas ou as disputas de poder foram resolvidas de uma forma em vez de outra, e tendemos a ficar presos a dependências de trajectória (“path dependencies”). Por outras palavras, depois de tomada esta decisão, depois de decidir construir aquela autoestrada urbana ou aquela estrada principal, em vez de construir ciclovias, acaba, de certa forma, por se tornar quase inevitável que as pessoas comecem a adquirir automóveis, motociclos ou o que quer que seja e sigam o caminho da mobilidade automóvel.
Torna-se muito mais provável que as pessoas deixem de usar as suas bicicletas ou de caminhar, principalmente à medida que outros elementos da cidade, como os locais onde as fábricas foram construídas, onde os locais de trabalho foram construídos e onde as instalações de lazer foram construídas, começam a desenvolver-se em torno do sistema emergente de mobilidade automóvel. Portanto, ficamos presos nesta dependência. Existem dependências físicas que se refletem na infraestrutura física que está a ser construída. Isso torna difícil, mas não impossível, de mudar a forma como nos deslocaremos no futuro.
Mas, voltando a um ponto que mencionei antes, penso que também adquirimos dependências de trajectória (“path dependencies”) nos nossos modos de pensar, esquecendo-nos de que existiam alternativas, esquecendo-nos de que havia outras visões sobre a mobilidade urbana. No presente, damos por nós a sermos literalmente incapazes de pensar em alternativas, em parte porque nos esquecemos que existiam alternativas no passado bem fundamentadas e defendidas apaixonadamente, que se poderiam ter concretizado.
Portanto, e mais uma vez, estou a repetir o que disse há alguns minutos. O passado, este passado utilizável é, pelo menos em parte, um reservatório ou um depósito de visões perdidas, de formas perdidas ou apenas vagamente lembradas, de imaginar a mobilidade urbana. Podemos escavar, podemos voltar atrás e recuperar e, embora reconhecendo o que disse nas minhas observações iniciais – que o presente e o futuro nunca repetem, exatamente, o que aconteceu no passado –, penso que estes ecos do passado, estas visões alternativas, podem ser usadas para inspirar-nos e para re-imaginarmos estas visões perdidas no contexto do presente, para imaginarmos, e até mesmo adotarmos, uma forma muito, muito diferente de nos movermos dentro das cidades.
“No presente, damos por nós a sermos literalmente incapazes de pensar em alternativas, em parte porque nos esquecemos que existiam alternativas no passado bem fundamentadas e defendidas apaixonadamente, que se poderiam ter concretizado.”
Portanto, o meu passado utilizável é uma espécie de história cultural. É uma forma de contar histórias que procura voltar ao passado para escavar estas visões perdidas que incendeiam a nossa imaginação para o futuro. Para nos dar esperança: é sobre dar-nos esperança de que as coisas podem ser diferentes. É muito difícil ter esperança na maior parte do tempo, mas, para mim, a história é uma fonte de alento – ela dá-nos a esperança de que, a longo prazo, as coisas podem mudar e podem mudar para melhor.
Na tua pesquisa, para além de documentos oficiais como o Relatório Buchanan (1963) e o Relatório Beeching (1963), também trabalhaste com jornais, editoriais e cartas aos editores. Como é que este uso de diferentes fontes te permitiu construir uma compreensão mais detalhada das disputas narrativas em torno da mobilidade urbana no século XX?
A pergunta contém a resposta, na verdade. É exatamente por isso que estou a olhar para fontes fora da narrativa oficial. Obviamente, os documentos oficiais são muito importantes. Talvez devamos mencionar que o estudo de caso em que trabalhei mais profundamente é sobre o desenvolvimento da mobilidade urbana e suburbana naquilo que é agora, no início do século XXI, uma região urbana na costa sul de Dorset, o condado onde eu moro – a conurbação de Poole, Bournemouth e Christchurch.
Estou a analisar a história desta região de há cerca de 60 anos atrás (que acontece ser o período em que eu cresci nesta zona) e a tentar compreender como um sistema ferroviário que servia esta área de forma bastante abrangente, quando era muito menos desenvolvida do que é agora, essencialmente ferrovias rurais, acabou por ser abandonado e como a região urbana emergente se tornou fortemente dominada pelos carros, pela mobilidade automóvel.
Compreender a documentação oficial é realmente importante, não apenas para entender a elaboração de diferentes argumentos dentro do estado, a nível nacional, no então Ministério dos Transportes, mas também a nível do que agora provavelmente chamamos de governo regional. É necessário entender como diferentes argumentos eram apresentados, muitas vezes naqueles tempos de forma confidencial. O público, os cidadãos não estavam envolvidos neste tipo de discussões. Se não compreendermos isso, não entenderemos porque as políticas foram promulgadas da maneira que foram, porque as decisões foram tomadas da forma como foram.
“É necessário entender como diferentes argumentos eram apresentados, muitas vezes naqueles tempos de forma confidencial. O público, os cidadãos não estavam envolvidos neste tipo de discussões. Se não compreendermos isso, não entenderemos porque as políticas foram promulgadas da maneira que foram, porque as decisões foram tomadas da forma como foram.”
Por outro lado, temos a sorte de viver em democracias, embora imperfeitas, e democracias liberais. E nestes tipos de sistemas, até mesmo os funcionários públicos, até mesmo os governos eleitos, têm de prestar muita atenção ao que os cidadãos estão a pensar. Não é impossível, é claro, para os governos promulgarem medidas impopulares, mas é muito mais fácil se o governo estiver a seguir a corrente. Então, o que tenho tentado fazer, especialmente olhando para jornais, editoriais, cartas aos editores, artigos de opinião, como agora os chamamos, é compreender, embora de forma imperfeita, estas correntes de pensamento mais amplas dentro da população em geral.
E, ao fazê-lo, descobri muitas visões alternativas, diferentes formas de pensar: pessoas, cidadãos e alguns grupos organizados que tinham argumentos muito bons sobre, por exemplo, porque este sistema ferroviário deficitário não deveria ser encerrado. Estes cidadãos, estes grupos promotores, tinham uma ideia bastante clara – ou talvez bom senso – ao olhar para o que vinha acontecendo nos Estados Unidos nas décadas anteriores, de que a mobilidade automóvel, ou uma dependência quase total da mobilidade automóvel, tinha muitos inconvenientes. E eles argumentavam que o sistema ferroviário local, embora na época, no início dos anos 1960, estivesse a perder muito dinheiro, tinha um enorme potencial para ser a espinha dorsal de uma forma diferente de se mover nesta região urbana emergente.
Portanto, penso que este estudo de caso em particular é um bom exemplo de como podemos voltar ao passado e encontrar visões alternativas. Também fiz uso de história oral com o mesmo objectivo, porque isso ainda está dentro da memória viva das pessoas. Mas aqueles de nós que são historiadores profissionais sabem que existem vários desafios ao usar relatos de história oral. Por outro lado, também existem vantagens, e a vantagem é que se pode aprender algo que, por um motivo ou outro, nunca apareceu nos registos escritos, ou pelo menos não nos que podemos chamar de registo escrito público, como jornais e assim por diante.
Portanto, penso que, se tivermos o tempo e os recursos, podemos analisar todo o tipo de fontes – como cartas privadas e diários, e assim por diante – e continuar este processo para obter uma compreensão ainda mais matizada das formas como diferentes grupos de cidadãos estavam a pensar sobre a mobilidade futura. Mas nenhum de nós tem tempo e recursos ilimitados.
Qual é a importância de contextualizar palavras-chave como “modernização” e “sustentabilidade”, dado que podem ter diferentes significados? Como historiadores, como podemos fazê-lo?
Penso que existem duas razões principais pelas quais é necessário contextualizar historicamente esses conceitos. Primeiro, devemos lembrar-nos de que estamos aqui a falar de história como um passado utilizável, de voltar ao passado para desenvolver histórias sobre o passado que nos inspirem para o presente e para o futuro. Isto significa que se há palavras que estão a ser usadas hoje – e o conceito de “sustentabilidade” é certamente um dos que estão hoje em uso, e, acredito, que “modernização” também – se voltarmos ao passado e encontrarmos estas palavras sendo usadas no passado (o que não é muito provável com o termo “sustentabilidade”, mas é certamente o caso do termo “modernização”.
No meu estudo de caso, a região urbana do sudeste de Dorset, grande parte da minha análise procura compreender a forma como o termo “modernidade”, ou “modernização”, estava a ser utilizado), então, em primeiro lugar, temos de ser muitos claros sobre como esta palavra era usada no passado, para ter certeza de que não assumimos que a forma como entendemos esta palavra no presente é a mesma que era usada no passado. Portanto, esta é uma regra simples da investigação histórica: é preciso ter cuidado para não se usar uma palavra de forma anacrónica. Só porque a palavra é a mesma, o significado poderá ser diferente.
“Por exemplo, quando políticos começaram nos anos 1960 a associar a descrição de ‘modernização’ ou de ‘modernidade’ a praticamente todas as políticas de mobilidade urbana, ou transporte urbano, que propunham naquela época, para mim como historiador, isso é um sinal de alerta.”
Portanto, a primeira razão é que temos de verificar se a palavra “modernização” estava a ser usada de uma forma semelhante em 1963 ou quando quer que fosse. Mais interessante ainda, quando nos debruçamos sobre o passado, precisamos de compreender a variedade de formas pelas quais um termo como “modernização” estava a ser usado. Porque, por exemplo, quando políticos começaram nos anos 1960 a associar a descrição de “modernização” ou de “modernidade” a praticamente todas as políticas de mobilidade urbana, ou transporte urbano, que propunham naquela época, para mim como historiador, isso é um sinal de alerta. É um aviso de que esta palavra está a ser usada porque os políticos acreditavam que tinha um certo apelo para o público, ou para certos elementos-chave do público, para os cidadãos. E está a ser usada para gerar apoio e entusiasmo por um conjunto específico de políticas.
Isso significa que, como historiador, quero compreender a maneira como os políticos estão a usar esta palavra para obter apoio popular. Agora, já falamos sobre as diferentes visões de mobilidade urbana no passado na área que estava a analisar, e também descubro que estas visões alternativas, estes cidadãos, estes grupos de defesa, que propuseram diferentes formas de entender a mobilidade urbana, também gostam, compreensivelmente, de usar o termo “modernização”; mas o ponto é que a sua compreensão do termo “modernização” envolvia uma visão diferente, um conjunto diferente de ideias sobre como se mover na cidade.
Em termos simples, o discurso político dominante, tanto a nível nacional como regional, via a “modernização” na direcção de uma região urbana baseada na automobilidade, com restrições ao transporte público para aliviar a pressão no centro da cidade; enquanto visões alternativas, aqueles que queriam ver o sistema ferroviário mantido, também falavam sobre “modernização”, mas para eles a “modernização” significava construir um novo tipo de ferrovia. Às vezes, de forma bastante incremental, como introduzir novas formas de tração, alterar horários, e assim por diante; outras vezes, de forma mais radical, com propostas para abrir novas linhas ou desenvolver novas formas de tecnologia.
“A mesma palavra está a ser usada de forma subtilmente diferente por diferentes grupos, e uma parte essencial é a recuperação destes sentidos diferentes para, no início do século XXI, desenvolver as nossas histórias que nos permitirão pensar de formas diferentes.”
Mas o ponto chave aqui é que a mesma palavra está a ser usada de forma subtilmente diferente por diferentes grupos, e uma parte essencial é a recuperação destes sentidos diferentes para, no início do século XXI, desenvolver as nossas histórias que nos permitirão pensar de formas diferentes. E uma das coisas que fiz no meu estudo de caso foi estabelecer um paralelo entre a forma como o termo “modernização” foi usado no início dos anos 1960 de muitas maneiras diferentes, com a forma como o termo “sustentabilidade” passou a ser usado no início do século XXI também de maneiras diferentes.
Todos são a favor da “sustentabilidade”. O problema surge quando se aprofunda a questão: então, percebe-se que diferentes grupos têm diferentes entendimentos do que significa o termo “sustentabilidade”. Assim, neste caso específico, compreender a diversidade do uso do termo “modernidade” ou “modernização” no passado, alertou-me para as maneiras muito diferentes em que o termo “sustentabilidade” passou a ser usado no início do século XXI por políticos e outras pessoas envolvidas com a mobilidade urbana, mas, também, de forma mais geral. E, por isso, passei a descrever estes termos, como “modernização”, como “sustentabilidade”, como termos aglutinadores no sentido em que são palavras que, por assim dizer, funcionam como grandes sacos.
Pode lançar-se qualquer significado para dentro deles, para que sirva um determinado propósito, com a consequência de que, de certa forma, as palavras acabam por se tornar quase insignificantes. Mas isso de uma forma perigosa, porque é possível que as pessoas pensem “oh, esta é uma boa política porque se trata de sustentabilidade”, sem realmente compreender que a palavra está a ser usada num sentido e não noutro.
Se se definir sempre o se que entende por “sustentabilidade”, não há problema em usar esse termo. Mas é claro que isso não é o que acontece no discurso político, especialmente quando os políticos estão a tentar vender uma ideia. Assim, a história atua aqui como um alerta. Mas, mais uma vez, no início do século XXI, retomo esta ideia: o que nos interessa aqui é o presente e o futuro. Temos de fazer a análise destes termos aglutinadores no contexto das políticas do início do século XXI.
E quanto ao uso destes termos por especialistas e a sua presença no discurso dos especialistas?
Bem, gostaria de pensar que os especialistas serão mais cuidadosos ao usar termos como “sustentabilidade” ou “modernização”. Mas acho que, se eu posso me descrever como um especialista, pelo menos quando se trata de compreender a história de certos tipos de mobilidade urbana, eu por vezes apanho-me a mim próprio a pensar “o que quero dizer com este termo?” Pode ser escorregadio, pode ser muito escorregadio.
“Acho que quando estamos a tentar envolver a população em geral, temos de ser muito cuidadosos para deixar claro qual uso ou qual sentido da palavra ‘sustentabilidade’ estamos a usar, num contexto específico.”
A maioria de nós, que se tem interessado há algum tempo na mobilidade urbana, está bem habituada à ideia de que o termo “sustentabilidade” tem pelo menos três dimensões: “sustentabilidade” económica, financeira; “sustentabilidade” social (que acho que geralmente se refere ao sentido de que qualquer mudança deve ser equitativa, não deve favorecer uma parte da sociedade em detrimento de outra; ou então deve favorecer, deve discriminar a favor dos menos favorecidos); e, por último, “sustentabilidade” ambiental ou ecológica, que é sobre a forma como a mobilidade se insere no ecossistema mais amplo.
Acho que quando estamos a tentar envolver a população em geral, temos de ser muito cuidadosos para deixar claro qual uso ou qual sentido da palavra “sustentabilidade” estamos a usar, num contexto específico.
Gostaria que explicasse o que é um Laboratório de História e quais são as suas expectativas ao implementar esta abordagem, por exemplo, se como está a fazer com o Hi-BicLab?
Eu estou muito interessado no que vocês [Hi-BicLab] estão a fazer, porque acredito que o que estão a fazer é realmente muito mais radical em relação a tudo o que eu e os meus colegas conseguimos alcançar até agora no Reino Unido; mas talvez possamos abordar isso mais tarde.
O termo “laboratório de história” não é uma invenção minha. Acredito que o fui buscar aos Países Baixos. Tenho quase certeza de que foi lá que o termo surgiu pela primeira vez, e compreendo que os holandeses o concebem como uma forma de envolver indivíduos e grupos na sociedade a fim de aprender coletivamente com o passado, com o objetivo de desenvolver histórias que nos ajudem a situar-nos no presente e inspirar o nosso pensamento sobre o futuro. Acredito que este tipo de esforço coletivo talvez tenha paralelos com a ideia de assembleias de cidadãos, com as quais vocês provavelmente estão familiarizados.
Está a falar do trabalho de Bert Toussaint no Ministério de Infraestrutura dos Países Baixos? E na T2M [Associação Internacional de História dos Transportes, Trânsito e Mobilidade], que também tentou promover há alguns anos um debate sobre história e políticas públicas?
Sim, acredito que, como muitas coisas, foi um processo bidirecional, ou pluridirecional. Acho que o trabalho de Bert Toussaint no Ministério de Infraestruturas dos Países Baixos foi especialmente inspirador porque ele e seus colegas realmente colocaram um Laboratório de História em prática. Eles conseguiram obter um apoio institucional significativo, que se traduziu ao fim e ao cabo, em financiamento! Bert foi contratado pelo ministério para desenvolver várias formas de aprender com o passado, sendo o Laboratório de História apenas uma parte disso.
E sim, tens razão, a T2M também seguiu esta ideia. Eu estava a ter discussões com outros colegas no Reino Unido que naquela época não estavam particularmente envolvidos com a T2M, mas estavam envolvidos, por exemplo, em departamentos académicos da área de estudos de transportes, ou de políticas de transportes, e alguns destes indivíduos estavam ativamente envolvidos em campanhas sobre questões relacionadas com a mobilidade – não necessariamente relacionadas com a mobilidade ciclável, mas acho que todos partilhávamos um interesse por isso. Muitos fios diferentes foram entrelaçando-se.
Portanto, o trabalho no Reino Unido não é de nenhuma forma único. Devo dizer que estou ligeiramente dececionado que a ideia do Laboratório de História não se tenha enraizado firmemente no Reino Unido. Pode muito bem ser que eu simplesmente desconheça algumas iniciativas porque não estou tão envolvido em redes profissionais como costumava estar. É verdade que eu continuo a trabalhar com o Departamento de Transportes do Reino Unido, e suponho que esta versão específica do Laboratório de História esteja provavelmente bastante próxima do tipo de trabalho que o Bert fazia no Ministério de Infraestruturas dos Países Baixos há alguns anos.
“Seria útil saber se, nos anos 1950 ou 1960, ou em qualquer época, havia pessoas em Lisboa que argumentavam fortemente que a bicicleta deveria continuar a ser uma parte fundamental da mobilidade na cidade? Ou era algo que nem sequer era discutido? Pode ser algo tão básico como isto.”
Em termos gerais, acredito que um Laboratório de História tem o potencial para fazer várias coisas. Novamente, volto ao ponto fundamental de que estamos a tentar desenvolver um conjunto de histórias sobre o passado que possam inspirar-nos em relação ao futuro. Esta é a meta principal; mas penso que há várias etapas neste processo para as quais um Laboratório de História pode contribuir, nem todas alcançadas pelo tipo de trabalho que realizo com o Departamento de Transportes. Por isso, acredito que, em primeiro lugar, um Laboratório de História pode ajudar a estabelecer, por meio de conversas entre especialistas, cidadãos, legisladores, políticos, enfim, quantos grupos possíveis forem envolvidos, o que pode ser útil entender sobre o passado no presente. Isso pode ser algo tão básico como: seria útil saber se, nos anos 1950 ou 1960, ou em qualquer época, havia pessoas em Lisboa que argumentavam fortemente que a bicicleta deveria continuar a ser uma parte fundamental da mobilidade na cidade? Ou era algo que nem sequer era discutido? Pode ser algo tão básico como isto.
Portanto, é uma conversa, um debate que ajuda as pessoas a entender o que pode ser útil saber sobre o passado para nos inspirar para o futuro. Um Laboratório de História pode ser uma forma desta conversa se desenvolver para que possamos, de facto, fazer uma análise. Podemos perguntar-nos, como historiadores, como especialistas, o que já sabemos sobre o tipo de coisas que esta conversa sugeriu que pode ser útil saber.
E, se conseguirmos ampliar o âmbito do Laboratório de História para incluir cidadãos e grupos promotores, podemos também verificar se estes chamados não especialistas (“non experts”), historiadores-cidadãos ou leigos, ou qualquer que seja a designação, eles próprios podem saber coisas sobre o passado que nós, especialistas, deixámos passar, porque podemos ser especialistas, mas não temos o monopólio da compreensão do passado.
“Historiadores-cidadãos podem saber coisas sobre o passado que nós, especialistas, deixámos passar. Podemos ser especialistas, mas não temos o monopólio da compreensão do passado.”
Qual é a importância de colocar vários públicos não-historiadores em contacto com fontes históricas?
Na minha opinião, ouvir outros grupos, grupos promotores, cidadãos, seja quem for, é uma parte realmente importante de um Laboratório de História mais completo, para compreender o que as pessoas sabem e que nós, como especialistas, não sabemos. Penso que este diálogo precisa de ir ainda mais longe, e perguntar se existem outros aspetos sobre o passado que sabemos, mas que não consideramos como potencialmente relevantes para as nossas circunstâncias políticas atuais.
Estas conversas podem trazer à tona ideias estranhas e maravilhosas, algumas das quais mostram ter relevância. É por isso que os workshops são uma forma tão frutífera de trabalhar, porque podem surgir histórias inesperadas, e só percebemos a sua importância ao ter este tipo de conversa. Mas depois de tudo isso, depois de reunirmos o nosso conhecimento coletivo e decidirmos que seria útil saber sobre X, Y e Z, mas que de fato já sabemos sobre XY e Z, também percebemos que há lacunas no nosso conhecimento. Há coisas que gostaríamos de saber, mas entre nós ainda não sabemos – o que os políticos em Lisboa diziam em relação à mobilidade urbana no início dos anos 1960 ou no início dos anos 1970. Talvez vocês saibam a resposta, eu não sei. Mas, se não souberem, então estão a começar a desenvolver uma agenda de investigação, que poderá então orientar a investigação histórica feita por especialistas, por historiadores cidadãos, para ajudar a construir estas histórias inspiradoras sobre o passado.
E, finalmente, eu acredito que um Laboratório de História completamente desenvolvido pode ajudar a identificar o que eu chamo de “campeões do produto” (“product champions”) – os indivíduos que trabalham dentro de organizações específicas ou grupos específicos, que o workshop ajudou a identificar como potenciais atores chave em qualquer desenvolvimento futuro da política de mobilidade em Lisboa, ou onde quer que seja.
Estes “campeões do produto” são os indivíduos, ou pequenos grupos de indivíduos, que se comprometeriam a trabalhar dentro destas organizações-chave para tentar incorporar esta abordagem histórica de pensar sobre a política futura nestas organizações.
“A memória corporativa é realmente muito curta, e eu já experimentei isso dentro do Departamento de Transportes [do Reino Unido].”
Assim, há vida além do Laboratório de História, que por si só não é um evento único – é um processo em evolução –; mas há vida além do Laboratório de História para esta compreensão histórica da política. Porque, caso contrário, há um perigo real, e infelizmente acho que isso é o que aconteceu no Reino Unido, de se poder ter um, ou dois, ou três, ou quatro, meia dúzia, quantos quer que sejam, laboratórios de história muito bem-sucedidos, onde se tem estas conversas realmente inspiradoras, podem até realizar-se muitas investigações históricas que são realmente interessantes por si só, mas também têm relevância para a formulação de políticas atuais – e então nada acontece, porque já se fez publicações, blogues, artigos de jornal; mas depois, as pessoas nas organizações-chave que podem realmente levar a alguma mudança simplesmente esquecem-se. Elas dizem: “ah, isso foi interessante”.
Mas a realidade é que a memória corporativa é realmente muito curta, e eu já experimentei isso dentro do Departamento de Transportes [do Reino Unido]. Eu venho realizando estes Laboratórios de História com o Charles Loft há… eu não sei, perdi a conta agora, oito anos, algo assim, talvez mais, e por razões óbvias, não fizemos nenhum nos últimos dois anos, e por isso achei que talvez fosse a altura de fazermos outro. Mandei um e-mail para o Departamento de Transportes. Eles disseram: “ah, isso parece uma ideia realmente interessante, mas nós não temos qualquer conhecimento disso. Está a dizer que já fez isso antes?” Eu disse, bem, “sim, pelo menos cinco vezes”; houve uma mudança no pessoal, os registos podem estar lá, mas não se sabe que os registos estão lá. Eu não estou a dizer que tive de reinventar a ideia, mas certamente tive de vendê-la novamente.
Como é que podemos lidar com essa memória curta?
Em certo sentido, isso é trivial, mas para mim foi um verdadeiro alerta de que a memória corporativa é realmente, realmente muito curta. Portanto, agora pode entender-se porque estou tão interessado na ideia do “campeão do produto” existir. Um campeão do produto é um indivíduo que pode sair do lugar em que está e assim continua a ter-se o mesmo problema; mas talvez alguém esteja a trabalhar dentro da organização – como o Bert Toussaint nos Países Baixos, que acho que se poderia argumentar que é o tipo de campeão de produto que estou a defender –; alguém que pode criar uma memória corporativa forte o suficiente para que isso se torne uma segunda natureza para as organizações pensarem na formulação de políticas tendo a história como parte da equação. Não estou a sugerir que a história se torne crucial em todos os casos: mas que dentro da organização se considere de forma sistemática como o entendimento histórico poderá contribuir para uma melhor formulação de políticas.
“Não estou a sugerir que a história se torne crucial em todos os casos: mas que dentro da organização se considere de forma sistemática como o entendimento histórico poderá contribuir para uma melhor formulação de políticas.”
Portanto, eu acho que este é o ideal, mas é extremamente desafiante. Extremamente desafiante. E os workshops que eu conduzi no Departamento de Transportes com o Chas [Loft], como disse anteriormente, acredito que sejam aproximadamente equivalentes ao que o Bert Toussaint fez dentro do Ministério [de Infraestruturas, dos Países Baixos]. Isso é menos desafiante, muito menos desafiante do que o que eu entendo que vocês estão a tentar fazer, porque dentro do Ministério, dentro do Departamento, temos um grupo, ou audiência, bastante definido com os quais estamos a trabalhar, e sabemos que estamos a lidar com funcionários públicos de nível médio e sénior, que formulam políticas – como queiram chamá-los, assessores para o aconselhamento de políticas –, que têm uma compreensão básica dos tipos de conceitos dos quais estamos a falar.
Com isto quero dizer que eles não têm um real entendimento dos estudos de caso históricos que vamos usar, mas eles estão prontos para lidar com isso. Eles gostam de ter umas três horas de “descanso”, entre aspas, em que podem participar e trabalhar um pouco em história. Eles realmente envolvem-se. Falamos mais ou menos a mesma língua; embora o Charles e eu tenhamos de lembrá-los de que os termos históricos nos anos 1960 não estavam, necessariamente, em uso, ou que aquelas palavras não estavam a ser usadas da mesma forma que poderiam ser usadas hoje.
Mas, no cômputo geral, penso que conseguimos fazer com que os técnicos que fazem aconselhamento sobre políticas se coloquem no contexto de há 60 anos e tentem compreender os tipos de desafios que os antecessores enfrentaram há meio século, ou mais, e depois utilizem estas perspetivas que desenvolveram ao longo de algumas horas examinando documentos originais e assim por diante, para refletir, dar uma volta de 360 graus, bem, 180 graus, e refletir sobre a maneira como estão a propor políticas nos dias de hoje.
Este é o ponto-chave da abordagem histórica com a qual estamos a trabalhar. Estamos a dizer-lhes: “olhem, não estamos a pedir que entendam cada subtileza da política ferroviária, de estradas e mobilidade urbana do início da década de 1960. Pedimos que voltem atrás no tempo para reconhecer que, de certa forma, as coisas eram feitas de maneira diferente naquela época e se questionem se agora, no início do século XXI, a forma como estão a desenvolver políticas está adequada às necessidades, considerando as vantagens e desvantagens que agora compreendem sobre a maneira de fazer as coisas no passado”.
“Conseguimos fazer com que os técnicos que fazem aconselhamento sobre políticas se coloquem no contexto de há 60 anos e tentem compreender os tipos de desafios que os antecessores enfrentaram há meio século, ou mais, e depois utilizem estas perspetivas que desenvolveram ao longo de algumas horas examinando documentos originais e assim por diante, para refletir, dar uma volta de 360 graus, bem, 180 graus, e refletir sobre a maneira como estão a propor políticas nos dias de hoje.”
Portanto, uma questão específica que os desafiamos a pensar é se a política de mobilidade ou transporte no século XXI dentro do Departamento está a ser concebida em termos de escalas de tempo de décadas que, agora sabemos, a partir do nosso entendimento do que aconteceu na década de 1960, são apropriadas para este tipo de área de política.
E isso, às vezes, deixa-os a pensar. Às vezes, eles dizem “sim”, e, às vezes, eles pensam “sim, talvez devêssemos pensar um pouco mais a longo prazo do que fazemos atualmente”. Mas acho que isso já é desafiante o suficiente, embora seja muito mais fácil do que o que estão a fazer em Lisboa. Porque o meu entendimento é de que, em Lisboa, estão a tentar envolver, ou desenvolver, uma forma de fazer história muito mais abrangente, desenvolvendo um passado utilizável, que envolve grupos fora da elite política, fora dos políticos locais.
Estão a tentar interagir com cidadãos e grupos promotores de uma maneira que certamente não tentámos fazer no Departamento de Transportes; o que não conseguimos fazer, não acredito que tenhamos conseguido fazer de forma sistemática em qualquer outro lugar no Reino Unido – mas posso estar errado neste ponto.
Quais são as vantagens de envolver audiências não-historiadoras? E aqui estamos a falar de várias audiências, não apenas das elites políticas, como mencionou. E quais são as armadilhas?
A enorme vantagem de envolver uma variedade de cidadãos, o mais amplamente possível, em Lisboa ou onde quer que seja, é que todos nós temos um senso do nosso passado coletivo. Todos os que participam num Laboratório de História terão alguma ideia de histórias, ou como as coisas se desenvolveram no passado, relacionadas com a mobilidade urbana.
Mesmo que seja apenas uma repetição da narrativa dominante de que era inevitável que a automobilidade dominasse Lisboa, ou qualquer outra cidade. Mas o ponto fundamental é que todos nós temos uma noção do passado, e isso é uma vantagem porque, como eu disse antes, aqueles de nós que nos consideramos especialistas ou peritos (“experts”) neste tópico não sabemos tudo, e é completamente possível que os chamados não-especialistas, os cidadãos, tragam formas frescas de pensar sobre o passado para a conversa, o debate, a discussão.
“A enorme vantagem de envolver uma variedade de cidadãos, o mais amplamente possível, em Lisboa ou onde quer que seja, é que todos nós temos um senso do nosso passado coletivo. Todos os que participam num Laboratório de História terão alguma ideia de histórias, ou como as coisas se desenvolveram no passado, relacionadas com a mobilidade urbana.”
Portanto, acho que este é o lado positivo. Não apenas contar histórias específicas sobre o passado, mas também trazer para o debate diferentes perspetivas sobre o que é importante no presente. É importante lembrarmo-nos de que estes laboratórios de história não tratam apenas de compreender o passado por si só – por mais importante que isso seja para nós, historiadores –; tratam de compreender o passado para influenciar o presente e o futuro. Portanto, o que importa no presente e o que pode ser relevante para o futuro, para estes diferentes grupos, pode ter uma forte influência no tipo de histórias que queremos procurar, no tipo de coisas que queremos entender sobre o passado.
Agora, quão importante é para grupos específicos em Lisboa que se melhorem as condições para a mobilidade ciclável, por exemplo? Tenho certeza de que se estão a alcançar alguns cidadãos, alguns grupos, para os quais isso não é uma prioridade. Mas mesmo que não seja uma prioridade, acho que estes grupos devem ser incluídos na conversa, precisamente porque têm uma visão diferente. Eles podem questionar, podem aprimorar o vosso pensamento sobre por que a mobilidade ciclável e outras formas de mobilidade ativa podem ser tão importantes. Também podem ajudar-vos a compreender como se poderia chegar a um compromisso entre estes pontos de vista, que, à primeira vista, podem parecer completamente opostos entre si.
“Tenho certeza de que se estão a alcançar alguns cidadãos, alguns grupos, para os quais isso [melhorar as condições para a mobilidade ciclável] não é uma prioridade. Mas mesmo que não seja uma prioridade, acho que estes grupos devem ser incluídos na conversa, precisamente porque têm uma visão diferente.”
Por isso, acho que há várias razões pelas quais é realmente importante alcançar diferentes grupos num Laboratório de História. A desvantagem é que algumas narrativas do passado se resumem, na realidade, a pouco mais do que um mito. São mal-entendidos ou leituras equivocadas do passado. É importante reconhecer que os cidadãos têm estas visões, mas acho que também é crucial que, num Laboratório de História, introduzamos a ideia e deixemos claro que o conhecimento académico, ou técnicas de investigação rigorosa são realmente importantes, porque nos permitem chegar – e vou colocar este termo entre grandes aspas – à “verdade”. (Poderíamos ter uma outra discussão sobre o que queremos dizer com “verdade” no contexto histórico – mas fiquemos por aqui!)
E qual é o papel do método académico para chegar à “verdade”?
O tipo de técnicas que desenvolvemos como historiadores académicos são também usadas por outras pessoas que não são historiadoras académicas, que são historiadoras leigas. As técnicas do conhecimento académico, de certa forma, permitem-nos entender o passado de forma mais precisa – posso colocar isto assim? – para nos aproximarmos da verdade sobre o que aconteceu. E acho que este é um elemento-chave do Laboratório de História, tentar desenvolver uma compreensão coletiva partilhada – que, no entanto, possa ainda permitir uma série de pontos de vista. E a maneira como fazemos isso é introduzindo a ideia de investigação rigorosa, ou conhecimento académico. Mas isso pode ser realmente difícil.
“Algumas narrativas do passado resumem-se, na realidade, a pouco mais do que um mito. São mal-entendidos ou leituras equivocadas do passado.”
Voltando à ideia de que a política é tanto sobre emoção e paixão, quanto sobre argumentos racionais: as pessoas podem estar muito apegadas a certas compreensões do passado formuladas de maneira incompleta, que eu argumentaria serem mitos, como por exemplo: “sim, sabe-se que a razão pela qual o carro é tão dominante é porque não havia alternativa. Era completamente irracional sugerir que poderiam existir outras formas de desenvolver meios de transporte dentro da cidade, blá blá blá”. É difícil. Pode ser realmente difícil – para colocar de forma simplista, ou sem dúvida simplificada – passar do mito para uma compreensão coletiva partilhada do passado que poderíamos descrever como passado utilizável.
Mas ainda acho que vale a pena o esforço, embora seja um desafio; como mencionei anteriormente, acho que o Laboratório de História talvez devesse ser considerado como uma espécie de Assembleia de Cidadãos que remete para o passado.
“Acho que o Laboratório de História talvez devesse ser considerado como uma espécie de Assembleia de Cidadãos que remete para o passado.”
Mais uma vez, provavelmente estão familiarizados com a ideia de Assembleias de Cidadãos. Atualmente, têm sido usadas em vários países, infelizmente não muito no Reino Unido. Mas, de facto, podem ter sido usadas na Irlanda do Norte; seguramente foram-no na República da Irlanda. As Assembleias de Cidadãos foram usadas para tentar – e, efetivamente, na República, com bastante sucesso – desenvolver um acordo coletivo sobre questões altamente controversas, como, no contexto da República da Irlanda, o aborto. Diferentes grupos, muitas vezes aparentemente opostos, são reunidos, representando de forma alargada os cidadãos, e são envolvidos ao longo de um período, muitas vezes de alguns dias, em discussões ou debates facilitados por especialistas, orientados pela agenda, pelas perspetivas, pelas opiniões de cidadãos que foram selecionados para participar neste exercício; e os resultados são frequentemente muito positivos – pontos de vista opostos podem, pelo menos, chegar a um compromisso, ou a um acordo coletivo sobre o que fazer com uma questão como o aborto.
E acho que um Laboratório de História, na sua melhor versão, pode ser um pouco assim – uma conversa, um debate, uma discussão entre um leque amplo de cidadãos, grupos promotores, assessores de políticas a nível do estado, dos governos regionais, ou de outros níveis, que podem ter perspetivas muito, muito diferentes, mas que podem chegar a algum tipo de acordo partilhado sobre os tipos de histórias do passado que são relevantes para o futuro, graças, em parte, à facilitação feita por especialistas, que podem ajudar a desbloquear discussões quando estas parecem estar a chegar a um impasse. Nem sempre vai funcionar.
Nem sempre funciona, mas esta seria a minha esperança. Portanto, as discussões são facilitadas por especialistas, mas o resultado do Laboratório de História não é ditado pelo conhecimento prévio dos especialistas. Nós, como especialistas, temos de estar abertos. Espero que estejamos abertos à possibilidade de que o Laboratório de História gerará resultados, gerará histórias que não esperávamos no início do processo. Mas é um grande desafio e desejo-vos toda a sorte com o tempo restante que têm para este projeto!
“As Assembleias de Cidadãos foram usadas para tentar desenvolver um acordo coletivo sobre questões altamente controversas. E acho que um Laboratório de História, na sua melhor versão, pode ser um pouco assim – uma conversa, um debate, uma discussão entre um leque amplo de cidadãos, grupos promotores, assessores de políticas a nível do estado, dos governos regionais, ou de outros níveis, que podem ter perspetivas muito, muito diferentes, mas que podem chegar a algum tipo de acordo partilhado sobre os tipos de histórias do passado que são relevantes para o futuro, graças, em parte, à facilitação feita por especialistas, que podem ajudar a desbloquear discussões quando estas parecem estar a chegar a um impasse.”
Aconteceu-lhe as pessoas trazerem histórias diferentes no Laboratório de História que promove?
Na realidade, não, porque a minha única participação ativa no Laboratório de História é no Departamento de Transportes. … Bem, isso não é totalmente verdade. Também conduzi exercícios semelhantes com outro grupo especializado, os estudantes de mestrado em Estudos de Mobilidade. Mas em nenhum destes grupos tivemos realmente tempo para gerar os tipos de discussões ou debates que acabei de descrever como o ideal para um Laboratório de História.
Não é possível fazer o que eu apresentei como o ideal numa sessão de três horas, que é o tempo que tenho para um Laboratório de História no Departamento de Transportes (DfT). Às vezes, o Charles e eu lutamos para conseguir que o DfT concorde com as três horas, porque estas pessoas são caras, o custo do seu tempo aumenta!
Também co-liderei uma rede de workshops no Reino Unido que procurava desenvolver a compreensão do passado utilizável, e que alguns dos resultados destes workshops – acho que fizemos três ou quatro – foram publicados num livro que saiu há vários anos. Nestes workshops, estávamos realmente a tentar definir os parâmetros, as estruturas, digamos, para conduzir laboratórios de história no futuro. Depois, o financiamento acabou, e eu aposentei-me parcialmente, e as outras pessoas seguiram por outros caminhos e fizeram outras coisas nas suas carreiras – e isso foi o que eu quis dizer quando comentei há pouco que estava um pouco desiludido, porque acho que o ideal do Laboratório de História não se enraizou realmente como um tipo de “prática sustentada” no Reino Unido –, o que foi uma das muitas razões pelas quais fiquei muito satisfeito por ter sido convidado para consultor do vosso projeto.
De certa forma é uma ironia – porque querem ter alguém como consultor que na verdade não conseguiu fazer o que defende?! Eu defendo a forma mais ampla e ambiciosa do Laboratório de História, e acho que é isso que vocês [Hi-BicLab] estão a tentar fazer; é por isso que estou tão satisfeito por estar envolvido neste projeto, embora esteja a várias centenas de milhas de distância.
Pode ser que, do seu ponto de vista veja de outra forma, mas do nosso, enquanto Hi-BicLab, foi bastante bem-sucedido.
Eu acredito que fomos bem-sucedidos em alcançar os objetivos mais limitados que estabelecemos para estes Laboratórios de história específicos. Estes laboratórios funcionam: recebemos feedback – o estado adora feedback – e tivemos feedback realmente positivo. No Reino Unido, a History Policy Network, que visa reunir académicos, assessores de políticas, políticos, comentadores, etc., utilizou os Laboratórios de História do DfT como um dos estudos de caso de uma prática bem-sucedida.
Por isso, sem falsa modéstia: acredito que fomos bem-sucedidos nesta ambição limitada, mas o que não conseguimos fazer foi ir além disso e desenvolver uma forma de Laboratórios de História muito mais ambiciosa e abrangente.
Quais são as semelhanças e diferenças que observa entre o Laboratório de História que facilitou e o Laboratório de História que estamos a desenvolver no Hi-BicLab?
Eu penso que já abordei a maioria dos pontos. Acho importante reiterar que há um compromisso partilhado em aprender com o passado, voltando ao tema fundamental que tem norteado toda esta conversa: compreender como chegamos ao presente e, outra vez, abrir as nossas mentes para diferentes futuros.
Acredito que esta é a grande semelhança entre o que temos feito e o que vocês estão a tentar fazer em Lisboa. No entanto, como referi, a diferença é que nos temos envolvido com diferentes tipos de grupos. Os participantes nos meus workshops são muito mais homogéneos, são assessores de políticas, ou estudantes, por exemplo.
Vocês estão a lidar com um leque muito mais amplo de cidadãos, grupos promotores e assim sucessivamente. De todas as formas, os meus workshops têm sido sessões limitadas e relativamente curtas. Vocês têm um programa contínuo, que acredito ser fundamental para o sucesso de um Laboratório de História. Nos meus workshops, o Charles e eu somos facilitadores, mas também trazemos o conhecimento especializado como um pacote. E não convidamos os participantes a desafiar o nosso conhecimento especializado.
Na verdade, o que lhes dizemos é: “Nós conhecemos este material e vamos fornecer-vos documentos de políticas para trabalharem”. Mas, sejamos claros, estes documentos foram cuidadosamente selecionados. Eles foram editados, por assim dizer, para que os participantes tenham alguma hipótese de entender o conteúdo nas duas horas, ou no tempo que têm para trabalhar neles. Enquanto num Laboratório de História mais amplo, como o que vocês estão a levar a cabo, e, como eu disse antes, sim, trazemos conhecimento especializado, mas de certa forma estamos a convidar as pessoas a não necessariamente desafiar, mas a complementar, a acrescentar algo ao conhecimento especializado, a introduzir novas perspetivas, a levantar novas preocupações no presente e, portanto, desafiar-nos a todos, tanto os historiadores especializados quanto os historiadores cidadãos, a entender o passado de maneiras diferentes -talvez mais ou menos subtis-, para refletir sobre estas preocupações atuais. Isso realmente não acontece nos Laboratórios de História que eu conduzo. O seu objetivo é realizar esta avaliação de 180 graus e analisar as práticas atuais à luz do que aprenderam com o passado. Portanto, o vosso Laboratório de História é muito mais ambicioso, acredito, em termos de envolvimento e do trabalho que vocês se propuseram a fazer.
Sobre o projecto
O Hi-BicLab é um projecto exploratório financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (EXPL/FER-HFC/0847/2021), que visa mobilizar a história para envolver diferentes públicos na identificação de factores-chave sociais, culturais e técnicos que moldaram a mobilidade (e imobilidade) de pessoas, alargando o nosso repertório dos passados da cidade, trabalhando numa abordagem interdisciplinar e envolvendo parceiros na co-construção de conhecimento sobre mobilidade urbana através de um pensamento na longa duração. Portanto, ao compreendermos que o passado não é um monólito, mas um espaço no qual, a partir da investigação, conseguimos apreender mais camadas do que aconteceu e questionar nossas percepções sobre o passado, o presente e pensar nas nossas alternativas para o futuro.