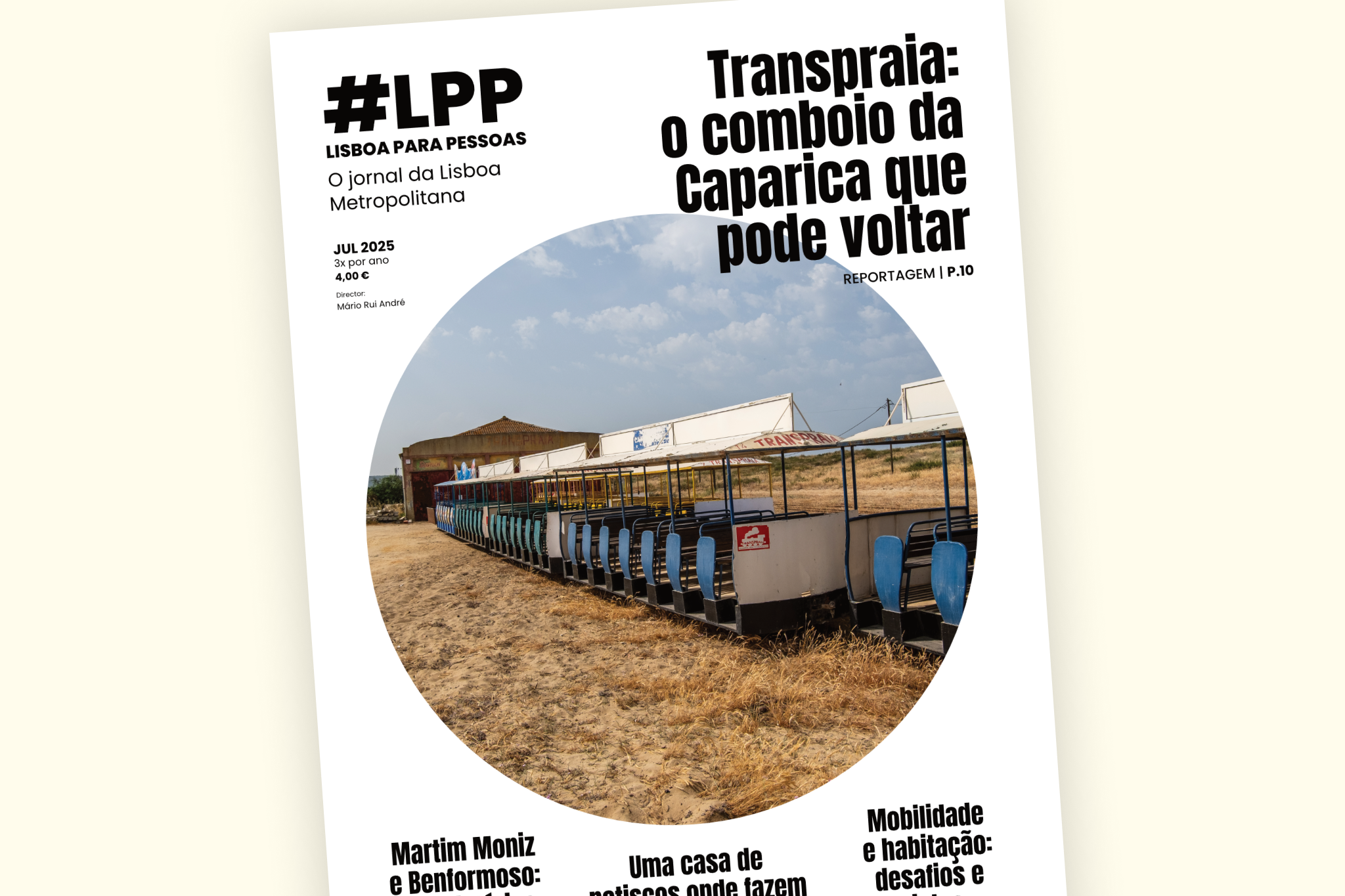Opinião.
Não há soluções mágicas para implementar a “revolução da proximidade”, nem esta se faz por decreto. Mas há combinações de medidas de curto e médio prazo que poderão ser ensaiadas.

A palavra Proximidade é o novo zeitgeist do urbanismo contemporâneo, o espírito do tempo em que vivemos. Compreende-se, é necessária e urgente uma mudança nas nossas cidades, por várias razões. Pelas ambientais, para reduzir as deslocações em transporte individual (que consomem energia fóssil e emitem CO2) e com isso melhorar a qualidade do ar e reduzir a sinistralidade rodoviária; mas também por razões sociais e económicas, para ativar redes de solidariedade e de vizinhança, gerar produção de circuitos curtos e consumos que animem a economia local.
No entanto, as palavras podem ter entendimentos equívocos. Proximidade é uma delas. Se atendermos ao seu significado geográfico, proximidade é a qualidade do que está próximo, do que é vizinho ou está paredes-meias. Mas estar próximo não é sinónimo de estar ligado ou conectado, como alertou há tempos João Ferrão num evento. As casas que juntam vizinhos nem sempre têm janelas ou portas abertas, podem até estar de costas voltadas. As escolas de bairro elevam muros para que as crianças não usem os recreios ao fim de semana. As lojas devolutas desesperam anos por vida urbana nos lugares onde há carência de espaços para acolher serviços de apoio à comunidade. Há moradores de um prédio que nunca trocaram um bom dia, quanto mais um pacote de açúcar.
Para além disso, para muitos, a proximidade é um bem inalcançável. O trabalho fica a mais de uma hora de distância e os serviços do quotidiano, dos transportes à educação, passando pela saúde, cultura e desporto, são escassos e de difícil acesso e usufruto. Para outros, a geografia difusa não se encaixa em modelos predefinidos da cidade canónica.
Ainda assim, a proximidade, entendida nos seus diferentes graus e intensidades, tomando a forma de espírito de vizinhança, solidariedade e cuidar coletivo ou sentido de pertença, como Ezio Manzini tem alertado, pode ser um desígnio comum, um desafio de futuro para arrumar melhor as vidas dispersas que as diferentes crises (financeira, pandémica ou climática) baralharam.
Contudo, esta narrativa da proximidade tem vários riscos: centrar a sua ação nas zonas centrais onde há massa crítica; ser feita de forma rápida, deixando muitos de fora; ser entendida para uma elite; não ser de fácil aplicação nos bairros periféricos, quer pelo contexto (distância), quer pela fragilidade das condições.
Há alguns sinais de que o ritmo da “revolução de proximidade” que Carlos Moreno defende pode estar a ser demasiado rápido ou sem a devida explicação e envolvimento dos cidadãos. As mudanças eleitorais em cidades que protagonizavam esta aposta (Barcelona, por exemplo) e o aparecimento de movimentos negacionistas que se opõem à cidade de 15 minutos por considerarem que é uma imposição e uma medida de controle social, são dois dados que por mais absurdos que pareçam deverão ser compreendidos.
Não há pois soluções mágicas para implementar a «revolução da proximidade», nem esta se faz por decreto. Mas há combinações de medidas de curto e médio prazo que poderão ser ensaiadas.
Em Portugal, seria interessante criar um programa de acções de curto prazo que ilustrasse os benefícios dos possíveis resultados desta mudança. Por exemplo, ter escolas abertas aos fins de semanas a funcionar como centros sociais de bairro; mapear os espaços devolutos e apoiar a criação de novas atividades produtivas; cartografar as zonas verdes disponíveis para ajardinamento coletivo. A Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, dedicou o Conselho de Cidadãos a este tema e está a ensaiar a aplicação do conceito dos super quarteirões de Barcelona no Bairro de Campo de Ourique.
Outra medida positiva seria uma dirigida a repensar o trabalho de proximidade, algo entre o trabalho no lugar da instituição e o tele-trabalho. Em Milão, há uma política que promove o “lavoro proximo”, a readaptação de edifícios em zonas periféricas que apoiem a deslocalização de lugares de trabalho sem ser em casa, prevenindo a mistura entre a vida familiar e a profissional e evitando deslocações em alguns dias da semana.
A pedagogia sobre a proximidade é essencial. E aí faria sentido criar mediadores de proximidade. Equipas municipais seriam úteis para trabalhar à escala da freguesia ou do bairro e aconselhar os moradores e os atores locais como poderiam beneficiar desse modelo de «cidade de proximidade». Por exemplo, ajudando a experimentar novas formas de mobilidade (ativas ou em transporte coletivo), os Urban Mobility Buddy, aconselhando sobre o consumo local (preços e alternativas), ativando os espaços públicos ou a utilização de equipamentos coletivos fora de horas, e reunindo com entidades empregadoras sobre modelos de trabalho alternativo que evitassem deslocações.
Por último, é fundamental uma estratégia para a proximidade, um road map de política urbana para a sua aplicação, com etapas, monitorização e comunicação dos resultados.